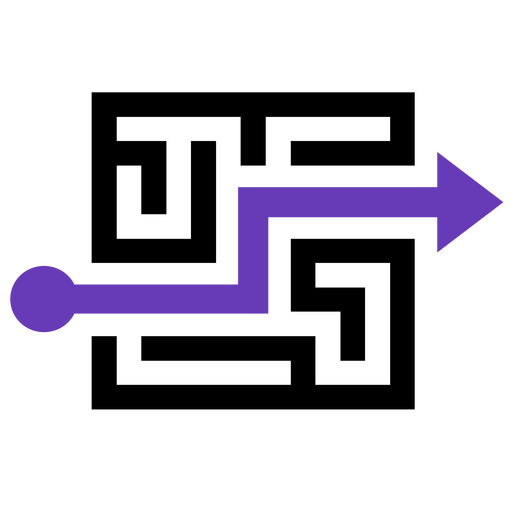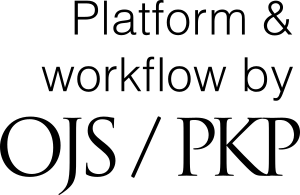Democratization and certainty
Democratization and certainty
DOI:
https://doi.org/10.48143/rdai/08.fkcAbstract
I – As definiçõesO primeiro dever de lealdade do intelectual é a clareza nas ideias, sobretudo quando elas se traduzem naquilo que os lógicos dominaram conceitos mentais, isto é, ideias que servem de instrumento para a apreensão da realidade.1-2 À falta de um sentido unívoco amplamente aceito para esses conceitos, importa explicar em que acepção eles são utilizados: ou seja, apresentar, desde o início da exposição, não uma definição essencial – válida para sempre e em todas as hipóteses – mas uma definição estipulativa, como dizem os semióticos anglo-saxões. Importa, em suma, que o expositor esclareça, preambularmente, em que sentido vai usar conceitos-chave da sua exposição (ou “discurso”), no jargão atual), sem pretender impor esse sentido a outrem, fora do contexto expositivo.
Do binômio que compõe o tema deste ensaio, a segurança oferece um passado de elaborações doutrinais muito mais tradicional, em Direito, do que o de democratização. Sem dúvida, porque o problema da segurança é inerente a toda e qualquer experiência jurídica, enquanto a democracia é fenômeno político recente, mesmo na História ocidental, sendo contestável a filiação da experiencia democrática moderna à vida ateniense do Século 8º ao Século 4º, a.C.
Comecemos, pois, pela definição da segurança em suas diferentes manifestações.
A pesquisa etimológica nos desvenda o núcleo significante do vocábulo: se (no caso, prefixo privativo, síncope de sine) e cura, isto é, cuidado, resguardo, cautela, precaução, preocupação. A ideia central de segurança expressa a tranquilidade, aquietação. No campo ético-jurídico, a segurança traduz a posse tranquila – isto é, livre de perigos – de um bem, uma posição, uma relação social. O que nos dá o sentimento e a situação objetiva dessa posse tranquila é a eliminação ou, pelo menos, o controle dos riscos suscetíveis de afetá-la; ou seja, a garantia. Garantia e segurança são, portanto, termos correlatos. Na linguagem do direito privado, aliás, fala-se indistintamente, em garantia e segurança. Assim, por exemplo, o Código Civil (LGL\2002\400) dispõe em seu art. 762, - I que: “a dívida considera-se vencida se, deteriorando-se, ou depreciando-se a coisa dada em segurança, desfalcar a garantia, e o devedor, intimado, a não reforçar”.
É, justamente, pela qualidade da garantia que se define a natureza da segurança. Há, com efeito, garantia de fato e garantias de direito. A elas correspondem seguranças fáticas – fundadas na força física, no poder econômico, na capacidade de sedução e assim por diante – seguranças jurídicas, reguladas no sentido de serem suscetíveis de produzir efeitos de direito no interesse do respectivo sujeito, nem sempre são efetivas, a ponto de proteger, real e completamente, os seus interesses. Põe-se, nesse particular, o constante e fundamental problema das relações entre o ser o dever ser, que não pode ser resolvido em termos de separação absoluta, como pretendeu Hans Kelsen e sua escola, nem sob a forma de um reducionismo unilateral, dos fatos do Direito – como preconizaram os jusnaturalistas – ou então, pelo contrário, do Direito dos fatos – como pareceu a alguns juristas modernos, como Karl Olivecrona. A relação entre fatos e normas, entre ser e dever ser, compõe uma dialética integrativa insuprimível. As instituições jurídicas existem enquanto valem, normativamente, no mundo dos fatos. O Direito é obviamente norma ou dever ser. Mas uma ordem normativa puramente ideal, ou confinada à letra das leis, é um fantasma, como dizia Jhering.
Assim, não há segurança jurídica que não tenha, ainda que em grau mínimo, uma existência efetiva.
Ora, sob o aspecto da certeza de aplicação da norma, a segurança é uma dimensão essencial do Direito. Indagar o fundamento último da segurança jurídica (em razão de que existe ela?) equivale a perquirir o próprio fundamento do Direito.
Não creio simplificar excessivamente o panorama histórico do pensamento ocidental, dizendo que as respostas a essa indagação podem ser classificadas em três grandes correntes.
Há os que identificam no poder efetivo, no controle incontestável das ações humanas o fundamento último da segurança jurídica. Hobbes é, sem dúvida, o primeiro e maior expoente dessa corrente de pensamento na idade moderna. Ele reconhece em cada homem o direito natural à própria sobrevivência e à satisfação de seus elementares interesses. É nisso que nos revelamos como seres sujeitos à lei comum da natureza. Mas esta lei natural conduz necessariamente, como no reino animal, a um estado de guerra permanente de todos contra todos, ao salve-se quem puder; em uma palavra, à insegurança coletiva, geradora da autodestruição. A supressão desse estado de guerra, que é a miserável condição do homem enquanto animal, exige uma auto-restrição dos direitos naturais de cada um, constituindo-se acima de todos um Poder – sob a forma de um monarca ou uma assembleia – encarregado de zela pela segurança de todos e de cada qual. Todas as normas emanadas desse Poder, no interesse da segurança coletiva, são legítimas; e ninguém pode alegar direitos individuais que entrem em conflito com as normas ditadas pelo Poder, no exercício de sua função máxima3.
A segunda grande corrente de pensamento que procurou responder a indagação sobre o fundamento da segurança jurídica é o consensualismo. Ele principia com Rousseau, que por sua vez remonta ao própria Hobbes. Rousseau aceita a análise de Hobbes – que, de resto, era comum a todos os pensadores ocidentais dos Séculos XVII e XVIII – da radical oposição entre o estado de natureza e o estado de direito. Reconhece também, com ele, que o estado de natureza é o domínio da insegurança geral e que os homens se unem juridicamente em sociedade para assegurar sua sobrevivência, mediante alienação – de todos para todos – de uma parcela de sua soberania individual. Mas – e aí vai o grande desvio em relação a Hobbes e a especial contribuição de Rousseau – essa fundação jurídica da sociedade não constitui um Poder personalizado, acima dos homens. Constitui, isto sim, um soberano coletivo – o conjunto dos homens naturais, tornados cidadão (homens civis) – cujas deliberações se pautam pela regra absoluta da vontade geral. Esta não representa a soma de vontades individuais quaisquer, nem mesmo a unanimidade destas; mas é a vontade dos cidadãos submetida ao pacto fundamental da sociedade civil, cuja razão de ser é a preservação dos sócios, libertos da lei natural. A segurança jurídica funda-se, pois, em última análise, no consentimento dos homens, geralmente manifestado após a fundação da sociedade civil, pela deliberação majoritária, mas que, pelo menos uma vez, isto é, no momento mesmo dessa fundação da sociedade civil, foi unânime. Por isso mesmo, Rousseau não admitia, como sabido, o sistema representativo de governo.
E há também, por fim, o conjunto dos adeptos da explicação transcendentalista, os que preferem fundar a segurança jurídica, não no Poder nem tampouco no consenso social, mas em valores que transcendem as vicissitudes históricas de um e de outro. São as explicações da segurança jurídica pela lei divina, a razão natural, ou os valores sociais, supremos e imutáveis. A segurança do Direito provém de sua conformidade com a justiça, que não é definida pelo soberano – seja ele um monarca, uma assembleia ou o próprio povo – mas traçada pela razão, divina ou humana.
O unilateralismo dessas concepções já não escapa a ninguém. Mas é difícil negar a parte de verdade que cada uma delas encerra.
A irrecusabilidade do poder, como elemento componente de toda sociedade, em necessária contraposição ao conjunto dos sócios ou governados, é inegável. A reusa dessa verdade, numa concepção de democratismo radical, conduz fatalmente à decomposição anárquica ou à exacerbação totalitária. Mas o poder não é fundamento último da segurança, como não é fundamento do Direito. Ele é, meramente, o instrumento de sua imposição. O Direito não deve ser obedecido em nome do poder, mas a outro título, que justifica o próprio poder.
Esse título justificativo de toda a ordem jurídica só pode ser a pessoa humana, como fonte universal de valores; a pessoa, que não é um ser abstrato, existindo fora das dimensões determinantes de tempo e espaço, mas um ente submetido aos condicionamentos concretos da vida histórica. Não há, portanto, valores humanos que transcendam a História.
O consensualismo, que engendrou politicamente o princípio da soberania popular, explicita uma boa parte da verdade quando funda a ordem jurídica na deliberação majoritária. Pois há, sempre, maior probabilidade de que os valores essenciais da pessoa humana sejam expressos pela maioria e não pelas minorias. É óbvio, no entanto, que essa probabilidade nunca é certeza e a massa pode também ser objeto de grandes manipulações. Daí por que se deve entender a democracia como o regime fundado tanto na lei da maioria, quanto no respeito aos direitos individuais. O princípio majoritário, por si só, não protege as democracias da decadência demagógica, ou dos abusos da maioria.
Como se vê, a discussão do primeiro termo do binômio “segurança e democratização” leva naturalmente ao âmbito de indagações compreendidas no segundo termo. O que mostra a indissociável correlação das ideias.
Falta, no entanto, para se completar esta rápida disquisição sobre a segurança, analisar os seus sujeitos. Em termos práticos e para simplificar a questão, é de se indagar quem tem direito à segurança.
A resposta a essa questão, por mais banal que pareça, exige se compreenda, preliminarmente, que toda situação de segurança existe contra algo ou alguém, diante de um perigo concretizado em fatos da natureza ou ações humanas. Classicamente, afirma-se que os indivíduos têm direito a uma vida segura diante dos outros indivíduos ou do poder estatal (perspectiva do direito interno, na interpretação da filosofia liberal) e que as nações têm direito à segurança, umas perante as demais. O que tem sido menos sublinhado é que entre o indivíduo e a nação existem vários grupos étnicos ou culturais, ou classes sociais, portadores de interesses coletivos próprios, que também devem ser protegidos contra abusos dos mais fortes.
É aqui que se insere a discussão sobre o sentido da “segurança nacional” na pretensa doutrina do mesmo nome, difundida pelas corporações militares nos Estados Unidos e na América Latina. Deve-se observar, de início, que o emprego do conceito de nação teve aí o mesmo objetivo mistificador da transposição, operada durante a Revolução Francesa, do conceito de soberania do povo para o de soberania nacional. O art. 3º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789 (Le Principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément) representou na prática um desvio do pensamento clássico. Em primeiro lugar, porque o conceito de nação, em meados do Século XVIII, ainda não adquirira a força expressiva que viria a ganhar ao findar do Século. O artigo de Diderot consagrado ao termo, na Enciclopédia, resume-se a uma curta definição: “Mot collectif dont on fait usage pour exprimer une quantité considérable de peuple, qui habite une certaine étendue de pays, renfermée dans de certaines limites, et qui obéit au même gouvernement”. O adjetivo “nacional” não se encontra Enciclopédia. Em segundo lugar, porque essa nação, titular da soberania, somente se manifesta por intermédio dos representantes, cuja legitimidade depende diretamente da qualidade das eleições. A classe burguesa, ascendendo ao poder com a Revolução, não tardou em impor limites econômicos ao exercício do voto eleitoral. Já a primeira Constituição Republicana (LGL\1988\3) Francesa, de 3.9.1791, por exemplo, estabeleceu-se a distinção entre cidadãos ativos e cidadãos passivos. Os primeiros, únicos titulares do direito de votar em eleições primárias, deveriam provar sua qualidade de contribuintes de impostos diretos e não poderiam se encontrar em “estado de domesticidade”, ou seja, serem empregados no domicílio (seção II, art. 2º).
Na concepção de Rousseau, que somente admitia como legítima a democracia direta, não havia propriamente uma superioridade de todo soberano sobre os cidadãos, suas partes componentes. A ligação das partes à totalidade era orgânica e não mecânica, de tal sorte que a lesão injusta causada a um cidadão ofenderia o corpo inteiro4.
Essa solidariedade orgânica se traduz por um inter-relacionamento de interesses e esferas de vida, sem hierarquia. A articulação do indivíduo ao grupo e à nação não comporta superposições, mas uma composição harmônica. Nenhum desses centros de interesse é superior ao outro, mas todos se contemplam mutuamente, respeitados os interesses próprios de cada um deles. Sob esse aspecto, a segurança jurídica se confunde com a própria noção de justiça (suum cuique tribuere).
Com essas observações, podemos passar ao exame do segundo termo do binômio, objeto destas reflexões: a democratização.
Proponho distinguir a democratização da democracia, observando que esta é um regime político estabelecido, enquanto aquela é o processo tendente ao estabelecimento desse regime. Quem diz processo refere-se a uma sucessão ordenada de fases ou estádios, visando a um resultado.
Convenhamos em reconhecer na democracia o regime político no qual o poder decisório pertence, em última instância, à vontade majoritária do povo, respeitados os direitos individuais, objetivando a realização da maior liberdade respeitados os direitos individuais, objetivando a realização da maior liberdade com a menor desigualdade social possíveis, numa determinada situação histórica. A democracia, assim entendida, se apresenta, em sua mesma, como um processo evolutivo, um estado perfectível. Pois não há liberdade ou igualdade social acabada, que se possa estabelecer de golpe, em país algum. Aliás, o conteúdo dessas liberdades ou dessa igualdade social é composto por várias situações concretas e não por uma só; e varia no tempo, em função da própria evolução dos valores ou aspirações sociais.
De qualquer modo, neste final de Século, em que pese às tentativa de ressurgimento de velhos mitos do liberalismo, há um largo consenso no sentido de entender a democracia não apenas como um sistema de regulação formal da vida política (as regras do jogo competitivo), mas também como imposição de fins ou objetivos comuns, notadamente no campo da igualdade econômica e social de indivíduos ou grupos. Não por outra razão que a questão da eficácia das normas constitucionais programáticas, ou das normas-objetivo, se apresenta como um dos grandes problemas atuais do direito público.
Em consequência, a democratização deve ser entendida como o processo que conduz a sociedade, da tirania ou da oligarquia à democracia. É processo de transferência de poder, não de simples mudança no estilo de governo. Poderá ser encetado legalmente, como adaptação evolutiva da ordem jurídica preexistente, ou deflagrado revolucionariamente, com a ruptura dessa ordenação. Mas mesmo as revoluções não estabelecem ex abrupto a democracia e não dispensam o processo de democratização. Ao contrário, a revolução venerada como mito oni-salvador leva a um estancamento do processo e à rigidez estrutural do regime, impedindo a consecução da democracia. Transmuda uma oligarquia em outra.
Isto posto, qual o vínculo que se pode estabelecer entre as ideias de segurança e democratização? É o que proponho apresentar a seguir.
II – Os princípios
Observemos, em primeiro lugar, que a segurança constitui um dos valores-fins objetivados com o estabelecimento do regime democrático. É só a democracia que garante ao máximo a plena satisfação dos legítimos interesses de indivíduos, grupos e da própria noção como um todo. Quanto a esta última, aliás, convém notar que uma das grandes dimensões da segurança – a econômica – é mais adequadamente garantida quando o poder político se funda na vontade majoritária do povo, do que quando ele pertence a classes ou grupos minoritários da sociedade. Pois estes grupos minoritários no poder, frequentemente, sobrepõem o seu interesse econômico particular ao interesse geral do povo, avassalando a nação aos centros de poder estrangeiros. O caso brasileiro atual ilustra convincentemente essa verdade, se é que ainda haja alguém que dito possa, honestamente, duvidar.
Mas a segurança não é, apenas, um dos valores a serem realizados na democracia. Ela deve também ligar-se ao próprio processo de democratização. A ordem jurídica há de conter mecanismos de controle que garantam a sucessão regular de etapas conducentes à democracia.
Temos, portanto, a segurança como resultado de democratização, a par da segurança do processo de democratização. Eis as duas ideias diretoras das sugestões a seguir expostas, para uma reconstitucionalização do país.
Parece óbvio que a segurança, como resultado da democratização, só pode ser obtida, nas atuais condições históricas brasileiras, com a sensível diminuição das desigualdades sociais, que o regime empresarial-militar de 1964 acentuou, desmedidamente. Ora, esse resultado não será tão-só o fruto da adoção de regras que garantam a livre competição das forças políticas. A desigualdade ou iniquidade social é traço essencial do subdesenvolvimento e somente pode ser corrigida com a instauração do processo desenvolvimentista. Nunca é demais, também, relembrar que o desenvolvimento não se confunde com o mero crescimento econômico, medido em termos de produto nacional, nem mesmo com o crescimento per capita. Se assim fosse, os emirados do golfo pérsico seriam, sem dúvida, os países de mais vigoroso desenvolvimento do planeta. O desenvolvimento supõe, justamente, a melhoria harmônica das condições de vida dos diferentes segmentos da população, de modo a suprimir desequilíbrios. Ele está, portanto, intimamente ligado ao processo de igualdade social.
Dessa verificação elementar decorre o imperativo de se abrir espaço, nas instituições políticas brasileiras, às funções de desenvolvimento e aos órgãos competentes para exercê-las. Na verdade, a superação do Estado liberal, positivamente incapaz de enfrentar as tarefas ingentes do desenvolvimento, não se obtém apenas com a proclamação de direitos sociais no texto constitucional. É indispensável reorganizar a sociedade política como um todo – os órgãos estatais e a chamada sociedade civil – para o desempenho dessas novas funções.
De resto, a dicotomia entre Estado e sociedade civil, inerente ao Estado liberal, nunca existiu antes dele e perde sentido com o abandono da ideologia que o inspirou. É preciso, pois, voltar a considerar a constituição de um povo no sentido aristotélico original, como a ordenação de suas instituições fundamentais, dentro ou fora dos órgãos de poder político, sem embargo de se manter o princípio de hierarquia das normas que compõe o ordenamento jurídico nacional.
Quanto à segurança do processo democrático, a ser iniciado após 20 anos e autocracia, compete precipuamente aos juristas elaborar os institutos de proteção adequados, vencendo-se o difuso sentimento de ceticismo em relação à efetividade de poderes que não estejam apoiados na força militar ou na disponibilidade de recursos econômicos. É preciso aceitar, convictamente, a ideia de que as garantias jurídicas podem ser socialmente efetivas e que, de qualquer modo, constituem sempre o necessário elemento de segurança dos regimes políticos. A curta e acidentada história de todos os regimes ditos justamente de exceção o demonstra, ex abundatia. “Le plus fort” – advertiu Rousseau em passagem ainda insuficientemente meditada – “n’est jamais assez fort pour être toujours le maître, s’il ne transforme sa force en droit et l’obéissance en devoir”.
Como o processo de democratização corresponde à progressiva translação do poder, da minoria para a maioria, em obediência ao princípio da soberania popular, as garantias jurídicas adequadas para o desenrolar desse processo devem visar a impedir a concentração do poder em classes, estamentos ou grupos minoritários. O próprio mecanismo de funcionamento dos órgãos de poder deveria conter freios ou contrapesos, encarregados de evitar o desvio contracionista.
É o que se pretende, como sabido, com a sistemática divisão de poderes no Estado.
Sobre o tema, no entanto, tantas insignificâncias têm sido repetidas, tanto preconceitos produzidos e reproduzidos, que se torna necessário apelar para um mínimo de reflexão crítica e de análise histórica, antes de propor o que quer que seja.
Sobre o tema, no entanto, tantas insignificâncias têm sido repetidas, tantos preconceitos produzidos e reproduzidos, que se torna necessário apelar para um mínimo de reflexão crítica e de análise histórica, antes de propor o que quer que seja.
Na visão política de Aristóteles, a separação de poderes aparece antes como a verificação empírica do que sucedia na constelação de cidades-Estados gregas, por ele analisadas, do que como imperativo ideológico. Observou o filosofo, a propósito, que “todas as constituições (no sentido de organizações políticas, escusa lembrá-lo) comportam três partes, a respeito das quais o legislador sério tem o dever de estudar o que é vantajoso para cada constituição. Quando essas partes se apresentam em bom estado, a constituição é necessariamente boa, e as constituições diferem entre si pelo diverso modo porque cada uma dessas partes é organizada. Dessas três partes, uma primeira é a que delibera sobre as matérias comuns; uma segunda é a que se refere às magistraturas e uma terceira é a parte que distribui justiça”5.
Montesquieu retomou a ideia, mas já agora em sentido nitidamente imperativo ou ideológico. A separação de poderes haveria de ser instituída, sob pena de, como proclamou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, não existir constituição! O objetivo claro é a eliminação dos excessos do poder político, os quais podem existir, aliás, como ele reconhece, na própria democracia. Daí porque, em sua proposta política, a peça essencial é a distinção de duas câmeras no corpo legislativo: uma representando a aristocracia e a outra, os plebeus6.
O caráter conservador do sistema assim proposto não escapou aos radicais da Revolução Francesa7 nem aos founding fathers da República norte-americana8.
Na realidade política do Século XX, porém, o mecanismo da separação de poderes foi sendo progressivamente falseado, como instrumento de contenção do excesso de poder, mesmo nos Estados de Direito.
A razão maior desse falseamento consistiu na substancial mudança de funções do Estado moderno. O mecanismo clássico de tripartição de poderes, com efeito, fundava-se no pressuposto de que a principal função do Estado seria a produção do Direito, por meio da edição de leis. Órgão supereminente do corpo constitucional era, portanto, o Legislativo. Com o abandono do liberalismo, no entanto, a principal função estatal deixou de ser a produção do Direito para se tornar a realização de políticas ou programas de ação. A própria elaboração normativa assumiu uma tarefa ancilar relativamente à realização de políticas, em todos os campos (financeiro, energético, sanitário, industrial, agrícola, educacional, de transporte, etc.). Uma transmutação dessa ordem não poderia deixar de reforçar, como de fato reforçou, a posição do Executivo, órgão precipuamente encarregado tanto da elaboração, quanto da execução de políticas. Mas o regime constitucional clássico, até hoje vigente em substância, não prevê mecanismos de regulação ou controle de políticas, atendo-se, unicamente, à produção do direito e à questão da legalidade dos atos administrativos.
Urge, portanto, retomar a análise do princípio da separação de poderes no Estado Moderno, visando não só a evitar os excessos ou abusos de poder em detrimento das liberdades públicas (objetivo clássico), como também visando ao indispensável controle de decisões ou programas de ação sob o aspecto técnico. Este novo objetivo adquire excepcional importância, em todos os países, mormente naqueles em que o programa de desenvolvimento nacional é erigido em meta prioritária de governo, em razão do caráter necessariamente tecnológico da atividade administrativa. É preciso evitar que as grandes decisões governamentais, aquelas que empenham gerações, sejam tomadas solitariamente pelo Chefe do Executivo, ou chanceladas por Ministros de Estado incompetentes e irresponsáveis, à vista de justificações herméticas da burocracia administrativa, ou sob a pressão incontida do complexo industrial-militar.
A adequada compreensão do princípio da separação de poderes, no Estado hodierno, afasta-se de qualquer dogmatismo. Não há Poderes-entidades, mas poderes-funções. Por isso mesmo, é descabida a genuflexão diante de uma espécie de “santíssima trindade” estatal.
III – As instituições
Da obediência aos princípios retro afirmados decorrem as sugestões institucionais que passo a alinhavar.
Duplo é o objetivo da separação de poderes na atualidade, como frisei: de um lado, classicamente, a preservação das liberdades públicas; de outro, o controle de mérito da realização de políticas, hoje necessariamente marcadas pelas exigências tecnológicas.
Há, no entanto, um risco óbvio na aplicação do princípio: a parálise dos órgãos estatais, condenados a se contrabalançarem, em posição de rigoroso equilíbrio. Montesquieu bem compreendeu a importância do problema, ao reconhecer o fato elementar de que governar é agir. Supôs, no entanto, que a própria natureza do sistema acabaria por romper a inação. “Ces trois puissances devraient former un repos ou une inaction. Mais comme, par le mouvement nécessaire des choses, elles sont contraintes d’aller, elles seront forcées d’aller de concert”.
Já se sabe que esse equilíbrio estático é sempre rompido, no Estado moderno, por iniciativa dos órgãos de governo (o impropriamente chamado Executivo) e a seu favor, sem nenhum fundamento explícito no sistema constitucional positivo. Impõe-se, portanto, a superação desse esquema normativo desajustado à realidade política atual, prevendo-se: 1) o explícito reconhecimento, a um ou mais órgãos estatais coordenados, da função de impulsionar o sistema; 2) o direcionamento dos centros de poder, tanto no Estado como na ordem privada, sob a iniciativa desses órgãos, para a consecução do grande objetivo histórico do momento: o desenvolvimento nacional.
Os órgãos de iniciativa e direcionamento, vinculados ao objeto do desenvolvimento nacional, não deveriam se confundir com o aparelho governamental.
Por outro lado, a elaboração de um plano – instrumento indispensável de toda política séria de desenvolvimento – supõe a prévia definição de metas a serem alcançadas, com a adequada previsão dos meios ou recursos disponíveis (orçamento-programa). A definição de metas é matéria essencialmente política, afetando múltiplos interesses: de classes, setores, regiões, atividades. Uma decisão dessa ordem, por conseguinte, não pode ser confiada a órgãos despidos de legitimidade representativa.
Por tudo isso, parece-me que se a aprovação do plano nacional de desenvolvimento deve ser feita pelo Congresso Nacional, a tarefa de sua elaboração há de ser confiada a um órgão técnico estranho ao Governo, a Superintendência Nacional de Planejamento, com a colaboração de outro órgão, representativo dos interesses grupais envolvidos no processo de desenvolvimento: o Conselho Nacional de Planejamento. A Superintendência seria chefiada por pessoa nomeada pelo Presidente da República por prazo certo, com aprovação do Congresso Nacional. Já o Conselho Nacional de Planejamento seria composto por representantes de sindicatos e organizações profissionais.
A execução do plano nacional de desenvolvimento incumbiria, precipuamente, ao Poder Executivo, em ambos os setores, da Administração direta e indireta. Essa tarefa de execução não é trabalho mecânico e subordinado, mas implica larga iniciativa e criatividade. Por isso mesmo, no desempenho das funções executórias do plano deveria competir ao Presidente da República o poder de baixar decretos-leis, sujeitos à aprovação posterior do Congresso Nacional.
Analogamente, os atos normativos emanados dos órgãos administrativos deveriam ser levados ao conhecimento da Superintendência Nacional de Planejamento, que teria a faculdade de suspender sua aplicação, submetendo o ato em questão à ratificação do Congresso.
A Constituição deveria também reconhecer como responsáveis pela execução do plano todas as empresas privadas, consideradas por lei como de interesse social. Essa qualificação legal atribuiria a tais empresas um status especial, comportando vantagens e ônus.
O controle da execução do plano e do orçamento-programa correspondente incumbiria à Superintendência Nacional de Planejamento, quanto ao Tribunal de Contas, como órgão auxiliar do Congresso.
Na estrutura do chamado do Poder Executivo, é importante distinguir funções políticas e funções administrativas. Por razões de estabilidade da ação governamental e também de dinamismo (exigências não antagônicas), é preciso preservar a posição preeminente do Presidente da República, eleito pelo sufrágio universal e direto. Mas essa preeminência não deve significar o monopólio de jure dos poderes governamentais, acarretando, como agora acontece, a criação de centros de poder extralegal no seio da burocracia estatal.
As tarefas administrativistas devem, claramente, ser deferidas ao Ministros de Estado, que continuariam nomeados pelo Presidente. Mas cada Ministro seria obrigado a apresentar um programa de governo à aprovação do Congresso. Um mecanismo dessa ordem representa verdadeira heresia em regime presidencial puro. Ele se impõe, no entanto, não só como medida de racionalização da atividade administrativa, como ainda para a necessária harmonia da representação popular, entre Legislativo e Executivo. O exercício do governo deixa de ser uma tarefa solitária do Executivo, para tornar-se o desempenho de autêntica política nacional, com a responsabilidade de todos os órgãos cujos titulares foram escolhidos pelo voto popular.
Com base nessa aprovação liminar do programa de ação de cada Ministério, o Congresso Nacional estaria fundado a exercer um poder de censura, afastando Ministros de Estado responsáveis por grave descumprimento dos programas aprovados.
Como se percebe, o sistema de governo que ora se propõe afasta-se tanto do modelo presidencial, quanto do parlamentar, procurando combinar as virtudes de ambos, em benefício da segurança do processo de democratização.
Mas a harmonização da segurança entre três esferas da vida coletiva – individual, grupal e nacional – depende também, basicamente, máxime em países subdesenvolvidos, de uma clara separação dos poderes militares e civis.
É indispensável fixar-se o princípio constitucional de que as forças armadas são exclusivamente encarregadas da defesa externa do País, não podendo, sob pretexto algum, empenhar-se nas tarefas de segurança interna, a partir de onde acabam, fatalmente, por avassalar os demais órgãos do Estado.
Na verdade, a militarização do Estado brasileiro encarnou-se por obra e graça da República, cuja proclamação constituiu o primeiro grande golpe militar de nossa história. Já na Constituição de 1891 declarava-se que as forças armadas eram “destinadas à defesa da Pátria no exterior e à manutenção das leis no interior” (art. 14). Amesquinhava-se, com isso, a função superior do Poder Judiciário, do Ministério Público e da polícia civil, na aplicação das leis. Tais instituições passavam, de certo modo, a ser tuteladas pela corporação militar, como sucesso do destituído monarca no exercício do “poder moderador”.
A mesma incongruência persistiu em todas as Constituições que se lhe seguiram, com exceção da Carta política de 1937, na qual se declarou, laconicamente que as forças armadas são “organizadas sobre a base da disciplina hierárquica e da fiel obediência à autoridade do Presidente da República”. Esse aparente paradoxo de a Constituição do Estado Novo ser a única de nossas cartas políticas republicanas a recolocar os militares em seu devido lugar explica-se, como bem salientou Raimundo Faoro, pelo fato óbvio de que, em 1937, os militares tornaram-se Poder; já não se contentavam em ser tutores do Poder.
Na Constituição em vigor, a militarização do Estado atingiu níveis nunca dantes alcançados, em razão da adoção normativa da chamada doutrina da segurança nacional. No art. 91, diz-se que as forças armadas são “essenciais à execução da política de segurança nacional” e que elas “destinam-se à defesa da Pátria e à garantia dos poderes constituídos, da lei e da ordem”. Ora, que essa pretensa “segurança nacional” signifique algo muito mais extenso do que a tradicional defesa do País contra o inimigo externo é evidenciado pela leitura da competência atribuída pela Constituição ao Conselho de Segurança Nacional. Incumbe a este, com efeito, “estabelecer os objetivos nacionais permanentes e as bases para a política nacional” (art. 89, I). Bem se vê, por conseguinte, que as finalidades últimas do Estado brasileiro e os fundamentos da ação política estatal não são definidos pelo povo brasileiro, nem pelos seus máximos representantes eleitos: são ditados por um conselho a que contraditoriamente, a Constituição atribui a função de “assessorar” o Presidente da República (art. 87).
Escusa dizer que a desmilitarização do Estado brasileiro não advirá, tão-só, de uma nova definição de poderes constitucionais. Importa, sobretudo, suprimir os órgãos militares ou paramilitares que se enquistaram na estrutura estatal. Dentre eles, saliento as políticas militares estaduais e o Serviço Nacional de Informações. A sua supressão me parece uma exigência preliminar para o bom andamento do processo de democratização. A manutenção da ordem interna pode perfeitamente continuar sendo feita pela política civil, reorganizada e reaparelhada. E o sistema de informações confidenciais deverá ser desdobrado de acordo com o princípio da desmilitarização e da garantia das franquias democráticas: o que disser respeito à segurança externa permanecerá no âmbito das forças armadas, o que entender com o cumprimento da lei e a manutenção da ordem pública competirá à autoridade policial.
Ademais, a nomeação dos altos funcionários incumbidos da segurança interna do País, tal como os superintendentes das Polícias federal e estaduais, deveria submeter-se ao controle do Poder Legislativo, mediante prévia aprovação do ato nominatório pelo Congresso Nacional ou pelas Assembleias Legislativas respectivas.
Com maioria de razão, se os Ministérios miliares não se reduzem à condição de simples ramos da Administração Pública, mas são efetivamente, extensões das forças armadas; se estas se apresentam como instituições nacionais, e não como órgãos corporativos, é altamente recomendável que a nomeação dos Ministros militares seja submetida à prévia aprovação do Congresso Nacional.
Na esfera jurídica, o princípio da separação dos poderes deveria estender-se, claramente, ao Ministério Público. Enfeudado como se encontra no Poder Executivo, esse órgão não tem condições objetivas para exercer, em plena autonomia, suas elevadas funções. Começo de solução para o problema seria adotar o sistema já estabelecido em alguns Estados da federação: o Procurador-Geral da República passaria a ser nomeado por prazo certo (não sendo, portanto, demissível ad nutum) pelo Presidente, com base em lista tríplice elaborada pelo Colégio de Procuradores, sendo aprovada, previamente a nomeação pelo Congresso Nacional. Mas isto supõe a atribuição das funções do procuratório dos interesses próprios da União a órgão diverso do Ministério Público federal.
Até agora, falei da separação horizontal de poderes, no nível estatal. Não se deve esquecer, porém, que numa sociedade política que adota o princípio da soberania popular e do Estado representativo, todos esses poderes-funções se exercem em nome e por conta do povo soberano. Nada mais razoável, assim, que uma parcela desses poderes-funções possa ser exercida pelo próprio povo, concorrentemente à ação dos órgãos estatais representativos.
Quero referir-me, em primeiro lugar, à iniciação popular e ao referendo, tanto para a edição de lei, quanto para a reforma da Constituição. A experiência recente demonstrou quão sábia teria sido a adoção de medidas dessa ordem, para superar o bloqueio institucional, oriundo do divórcio entre o povo e os órgãos oficiais de representação política, no tocante à eleição do Presidente da República. A iniciativa popular e o referendo, por outro lado, serviriam como corretivo eficaz à tendência oligárquica dos partidos políticos. Tanto uma quanto outra medida, de resto, poderiam bastar-se na fixação de princípios – cometimento que pode, perfeitamente, ser dado ao conjunto dos eleitores – deixando-se a construção técnica das normas ou institutos à competência do Legislativo.
Na mesma linha de ideias, já se se estabeleceu largo consenso, nos meios jurídicos da nação, quanto à necessidade de se alargar a legitimidade ativa, na ação direta de inconstitucionalidade. Minha proposta é de estendê-la a toda pessoa de direito privado, natural ou jurídica, bem como a Governadores de Estado, Assembleias Legislativas ou partidos políticos.
No capítulo dos direitos e garantias individuais, o desdobramento do princípio de separação de poderes vê-se, atualmente, empeçado pelo enxerto das chamadas “salvaguardas” no texto constitucional, assim como pela manutenção em vigor da lei de segurança nacional. Efetivamente, as medidas de emergência e o estado de emergência, negociados como compensação à retirada dos ucasses denominados “atos institucionais”, suprimem ou amesquinham o controle do Congresso sobre a assunção de poderes excepcionais de manutenção da ordem pública, pelo Presidente. Por outro lado, a lei dita de segurança nacional nada mais é, na prática, do que a legitimação de garantias arbitrárias à proteção dos interesses próprios dos grupos minoritários no poder. Sem o pronto afastamento desses obstáculos, o processo de democratização não poderá envolver seguramente, em direção à meta última da plena instauração da segurança, assim no plano individual, como no grupal e no autenticamente nacional.
Downloads
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
This journal is licensed by (CC BY-NC-ND)
Submission and publication of articles are free; peer-reviewed; the journal uses CrossCheck (anti-plagiarism); and complies with the COPE Editors' Guide; Committee on Publication Ethics, in addition to the Elsevier and SciELO recommendations.
Check the Rules for the submission and evaluation of the RDAI.