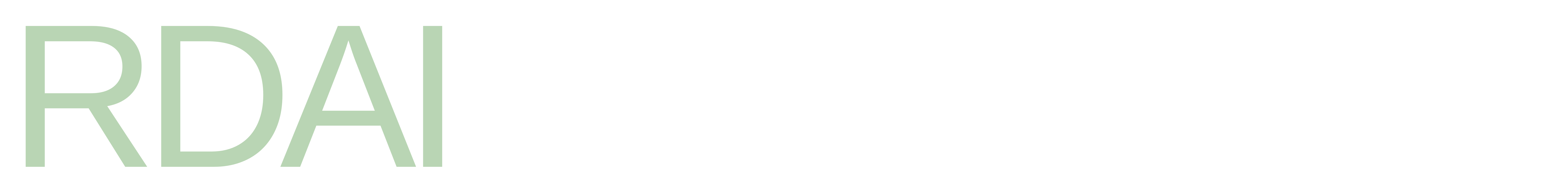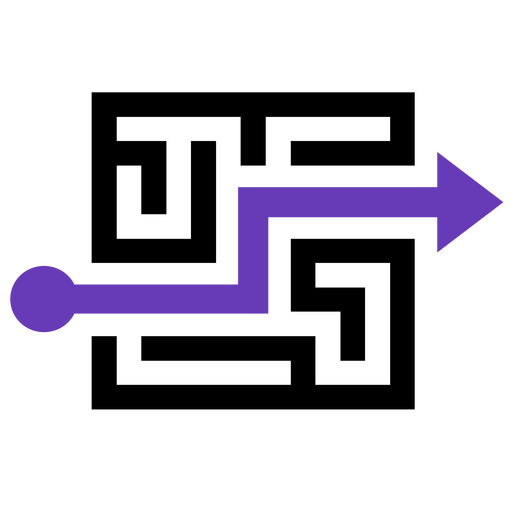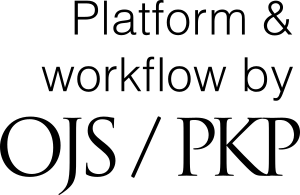Mandado de segurança contra denegação ou concessão de liminar
Writ of mandamus against denial or granting of preliminary injunc-tion
DOI:
https://doi.org/10.48143/rdai/11.mello.cabResumo
Assentou-se o entendimento — corretíssimo, aliás — de que, para prevenir dano irreparável, é cabível impetração de segurança, obviamente com pedido de liminar, contra decisão judicial gravosa a direito líquido e certo, quando dela não caiba recurso com efeito suspensivo. Isto posto, interessa aqui discutir, unicamente, o tema da impetração de segurança contra a decisão judicial que, em mandado de segurança, concede ou denega pedido de liminar. A questão a ser enfocada concerne a saber-se se quem a profere tem liberdade jurídica para deferir ou não a liminar e, na hipótese de tê-la, se tal "liberdade" é suficiente para afastar o controle jurisdicional pela via de mandado de segurança. "O art. 7.º da Lei 1.533, de 31.12.51 - lei do mandado de segurança - esclarece que: Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: "I – (...) II – que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido quando for relevante o fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida." Corretamente o preceito diz que "o juiz ordenará" a suspensão do ato. Aí não se diz que "o juiz poderá ordenar", mas que ordenará. Deveras, estando presentes os pressupostos da concessão da liminar esta não poderá ser denegada, assim como, se não estiverem presentes, terá de ser denegada.
Seria um erro grosseiro imaginar-se que o magistrado tem, de direito, "liberdade" para outorgar ou não esta medida de cautela e que concedê-la ou negá-la é uma questão de "foro íntimo", puramente subjetiva. Com efeito, o deferimento de liminar não é um "ato de magnificência", uma "liberalidade'', um gesto de "graça", outorgado por um sentimento munificente do Estado em relação a algum jurisdicionado. Não. Como qualquer outro ato jurisdicional é mera e obrigatória aplicação do direito ao caso concreto. Tratando-se de jurisdição, o título jurídico para decidir é o de dizer o direito: juris dictio. O que o magistrado faz ao conceder um pedido de liminar (ou rejeitá-lo) é o mesmo que faz ao prolatar uma sentença ou ao proferir despachos que decidam pretensões controvertidas no curso de uma lide: é firmar que, contrastada a norma com os fatos que lhe estão submetidos, o direito impõe tal solução, a qual por ele é exprimida na qualidade de oráculo do direito no caso concreto. Nem se diga que a apreciação de um pedido de liminar presume análise de pressupostos que comportam certa liberdade estimativa. O mesmo fenômeno se passa com quaisquer decisões jurisdicionais. Também para prolatar uma sentença o juiz necessita sopesar fatos, avaliar se e em que medida se encaixam precisamente na regra de direito que 'estimar' ser a própria para regência da espécie, sempre que se controverta também sobre a norma efetivamente pertinente ou sobre a extensão de seu alcance. O juízo lógico que tem de emitir é de idêntica natureza e compostura em ambos os casos. O fato da liminar ser provisória, com as consequências daí derivadas, e a sentença ser terminativa, não afetará em nada a identidade das operações lógicas realizadas em um e outro caso.
Ainda que se sustentasse que a apreciação de um pedido de liminar propõe problema do qual resultaria liberdade correspondente à do administrador público nos casos de discricionariedade, mesmo assim, decisão sobre a liminar seria controlável, pois a discricionariedade, como se sabe, tem limites, além dos quais haverá pura e simples violação ao direito, isto é, ilegitimidade. Deveras, quando da lei resulta discrição para o administrador, isto não significa que a este caiba adotar soluções desarrazoadas, não comportadas pelos fatos submetidos a seu juízo, ou que transbordem o campo significativo das palavras de que se serviu a norma para batizar-lhe a atuação ou que, de qualquer modo, comprometam a finalidade por ela protegida e em função da qual – para bem atendê-la - foi concedida a "liberdade" de apreciação. Somente um jejuno em direito administrativo imaginaria que a discrição suposta na norma - é dizer verificável no patamar da regra aplicanda – confere ao agente idêntico campo de liberdade perante o fato concreto, ensejando-lhe adotar quaisquer soluções dentre as abstratamente comportadas, mesmo que "in concreto" se revele claramente discrepante do objetivo que preside a discrição. Deveras, como de outra feita o dissemos ("Controle judicial dos atos administrativos", RDP 65/27 e ss.), a situação real em que esteja posta a Administração restringe o campo de eleição de comportamentos jurídicos possíveis. Na regra legal o âmbito de liberdade aparece mais amplo, porque se quer delimitado em vista das situações reais.
Seria um absurdo entender que, nos casos de vinculação, a lei almeja uma solução ótima (aquela predeterminada inteiramente com antecipação) ao passo que, nos casos de discrição, conforma-se com qualquer solução abstratamente possível, mesmo que incompatível com o interesse que a lei veio tutelar. A outorga da discrição significa o oposto. disto. Significa que não podendo a regra de direito estatuir, de antemão, qual seria a providência ideal para acudir ao interesse que se propõe a tutelar, mas justamente porque a deseja, correu-se de adotar fórmula rígida, capaz de comprometer in concreto a realização do bem jurídico que quer ver tutelado. Precisamente por isso (porque só quer a solução excelentemente justada à finalidade protegida), a lei impõe ao agente, que é quem se defronta com os casos concretos, animados pela coloração própria dos eventos reais e marcados pelas circunstâncias que lhe dão fisionomia e identidade, o dever de adotar perante cada situação específica a solução adequada - e não mais que ela - capaz de satisfazer de modo preciso e exato a finalidade legal.
Efetivamente, sucederá em muitos casos que apesar da lei contemplar a possibilidade de opção entre dois comportamentos - exatamente para que fossem sopesadas as circunstâncias f áticas, como requisito insuprimível ao correto atendimento do interesse tutelado - estas mesmas circunstâncias evidenciem, para além de qualquer dúvida, que só cabe um comportamento apto para atingir o objetivo legal. Neste caso, dito comportamento é obri1:rntório e não pode ser adotado outro. O mesmo se diga, analogamente, quando a lei faculta a produção de um dado ato ao invés de fixá-lo como obrigatório. Em suma: tanto nas hipóteses de vinculação quanto nas de discrição, a lei impõe igualmente e sempre o dever de que seja adotado o comportamento que satisfaça com rigor a finalidade normativa. Em ambos os casos há adscrição ao dever de produzir o ato adequado ao cumprimento do escopo da regra jurídica. Quem não atende à finalidade da lei, não atende à lei. Transgride-a. Donde, seu ato tem que ser fulminado.
A diferença entre ambas as situações está em que, na vinculação, o comportamento que levará ao pleno atendimento do fim legal já está predeterminado e na discrição sua definição é posterior, já que vai depender das situações concretas, pois não foi preestabelecido. Logo, o problema da validade dos comportamentos praticados a título de discrição administrativa converte-se, em larga medida, num problema de prova ou de exibição racional, argumentativa, que demonstre o descabimento - portanto, ilegalidade – da medida adotada. Isto não significa suprimir o "mérito" do ato administrativo - que é a esfera onde realmente se acantona a liberdade de escolha ante uma dada situação - mas apenas reconhecer-lhe as fronteiras. Sem dúvida, em muitos casos, que serão, talvez, a maioria, há mais do que impossibilidade de demonstrar que a solução tal ou qual não é a adequada. Há impossibilidade de conhecer qual a verdadeiramente correta ante a finalidade da lei. É que, como admiravelmente disse Bernatzik, citado por Queiró (Reflexões sobre a Teoria do Desvio de Poder, Coimbra Editora, 1940, p. 31), em face de certas decisões "há um limite além do qual nunca terceiros podem verificar a exatidão ou não da conclusão atingida. Pode dar-se que terceiros sejam de outra opinião, mas não podem pretender que só eles estejam na verdade, e que os outros tenham uma opinião falsa". Aí sim, e só aí, haverá realmente discrição, campo que o Judiciário não pode invadir. Mas é ao Judiciário que cabe reconhecer onde estão as fronteiras deste campo. Já, em outros tantos, de fisionomia exemplar, poder-se-á verificar, segundo o juízo normal e razoável dos homens sensatos e isentos - e a lei se dirige aos seres normais, pelo que há de ser entendida de acordo com intelecção assim formada - que a discrição abstratamente estabelecida na regra contraiu-se ou até mesmo desapareceu inteiramente ante o caso concreto.
Pelo quanto se expôs, verifica-se que, mesmo supondo-se existir na apreciação de pedido de liminar a emissão de um juízo discricionário, qualificado de direito de modo idêntico ao juízo discricionário do administrador - o que já seria um equívoco - ainda assim resultaria despropositado sacar disto a conclusão de que liminar se concede ou se nega por uma questão de foro íntimo, conforme a subjetividade pessoal de cada juiz e que, portanto, é inaferível a procedência legal, jurídica, de sua decisão. Se margem de discrição existisse, ubicar-se-ia no interior de certos limites juridicamente contrastáveis pelo órgão jurisdicional de alçada superior. De par com isto - ressalte-se - fazer equivaler a outorga ou denegação de liminar a um ato discricionário, com caracterização jurídica equivalente à discrição de um administrador, desembocaria em assumir que uma sentença ou um acórdão também são atos discricionários (e não de interpretação do direito para dizê-lo no caso concreto), pois o juízo lógico de que resultam quaisquer destes atos jurisdicionais - consoante se averbou - é rigorosamente o mesmo. Com efeito, se o art. 7 º da Lei 1.533, de 31. 12. 51, estatuiu - como o faz - que o juiz ordenará a suspensão do ato impugnado, quando for relevante o fundamento do pedido e puder resultar a ineficácia da medida se não for concedida a liminar, o juiz terá de concedê-la uma vez ocorrentes tais pressupostos. A norma não outorgou ao juiz liberdade para optar entre dois comportamentos: impôs-lhe um só na hipótese de se preencherem os requisitos aludidos.
A lei não demanda, nem podia fazê-lo, que o impetrante tenha razão. Demanda apenas que o fundamento seja relevante. Vale dizer, que não se trate de alegação de somenos, de parca verossimilhança jurídica, menoscabável. Se o fundamento colacionado tem vezos de juridicidade, apresenta-se como importante, com feição de comportar um possível amparo (ainda que isto não se confirme, a final, ao cabo de análise mais aturada) é evidente que estará presente o primeiro requisito. Se não fora para ser entendido deste modo, o mandado de segurança - garantia constitucional - seria a mais rúptil e quebradiça das garantias, absolutamente inútil para cumprir o préstimo a que veio. A final, cumpre dizer que o pronunciamento jurisdicional concessivo ou denegatório de liminar em mandado de segurança não pode de modo algum ser havido como ato expressivo de discrição, à moda do que ocorre nos atos administrativos. A razão disto é simples. Mais do que simples, é óbvia. A saber: o próprio dos órgãos jurisdicionais é dizer o direito. O título jurídico qualificador deles é exata e precisamente este mesmo: exprimir aquilo que o direito é no caso concreto; não aquilo que o direito pode ou poderia ser. Há, pois, uma oposição entre tais atos e os atos discricionários, visto que estes últimos presumem alternativas.
Quando alguém usa de discrição, está tomando uma decisão que, ante o direito vigente, pode ser de tal modo, tanto como poderia ser de outro modo. Na pronúncia jurisdicional não. A decisão tomada exprime que alguém faz jus a uma dada providência; que é direito de alguém; que é devido ao postulante o que pediu, ou, reversamente, que não é devido. Jamais resultaria de uma decisão jurisdicional a afirmação de que tal direito "pode ser reconhecido" tanto quanto "poderia não sê-lo". Seria um absurdo dizer-se, em um dado caso concreto e perante a norma aplicável, que alguém tem ou então não tem dado direito. Que são alternativas igualmente sufragadas pelo direito. Portanto, o órgão jurisdicional, ao decidir, afirma que o direito por ele pronunciado preexiste e que a solução dada é a cabível e é a única, com exclusão de qualquer outra, porque fala em nome do que já está solucionado na lei, da qual ele é o porta-voz no caso concreto. O deslinde pode (ou não) ser difícil; pode demandar recurso a princípios gerais, mas, de direito, sua pronúncia é a expressão oracular do que as normas aplicáveis "querem" naquele caso. Este é a característica própria, específica, da função jurisdicional. Por isso, quando um tribunal reforma uma decisão de l º grau, não o fará sub color de que a sentença ou a liminar eram inconvenientes ou inoportunas e que o órgão revisor sabe ou soube escolher o melhor ou o mais conveniente. Pelo contrário, o Juízo do 2.º grau decidirá que a sentença ou a liminar não correspondiam à solução que o direito determinava e, pois, que o Tribunal vem proferir a solução que o direito impõe. Em suma: por meio da função jurisdicional expressa-se - se assim podemos dizer - a "verdade legal", a "verdade jurídica" no caso concreto. Não há espaço para duas "verdades do direito" em uma mesma lide, tanto mais quando antinômicas. Daí que, ao reformar uma sentença ou ao cassar uma liminar, o Tribunal que apreciá-las irá fazê-lo estribado em que a decisão revista foi "errada'', ou seja, que "não exprimiu o direito devido", conquanto houvesse pretendido exprimi-lo. Está, por definição, excluído que ambas as decisões (a que reformou e a reformada) sejam alternativas igualmente confortadas pela ordem jurídica, que seria a situação caracterizadora de discrição administrativa.
Ora bem, como já se mencionou, quer para sentenciar, quer para conceder ou negar pedido de liminar, o juiz avalia fatos, sopesa circunstâncias e "estima" que uma dada norma demanda a proteção de uma certa situação. O juízo que necessita formular em ambos os casos é da mesma compostura lógica. Nem por isso se diz que a sentença é discricionária. Portanto, também não há porque dizer que a liminar o é. O fato desta última ser provisória - com as consequências inerentes - em nada interfere com a identidade da estrutura lógica do juízo reclamado, quer para sentenciar quer para apreciar a demanda de liminar. Com efeito, também neste caso o que se examina é se existe ou não o que a lei estabelece para o deferimento. Veja-se que o examinado pelo juiz, para decidir se confere a liminar, não é o mesmo que tem de examinar para proferir a sentença. A compostura dos objetos sub examine não é igual; já a análise que terá de fazer em ambas as hipóteses - cada qual voltada para o respectivo objeto mentado - é idêntica. Em ambas as operações mentais a pronúncia se faz sobre o que a lei requer. Estará sempre em pauta uma questão de legitimidade e não de oportunidade, de "opções", melhores ou piores. Em síntese: quando avalia o pedido para outorgar ou denegar uma liminar, o órgão jurisdicional não se pergunta se convém ou não outorgá-la, mas se, de direito, o requerente faz jus a ela, isto é, se estão ou não preenchidos os pressupostos de deferimento. Se estiverem, não há senão concedê-la. Se não estiverem, não pode deferi-la. E a conclusão a que chegar nunca será a de que "podem ou não estar preenchidos'', pois sua pronúncia é a própria voz do Direito, é a própria expressão da lei in casu, a qual estará, presumidamente, afirmando ser aquela a solução devida, com exclusão de qualquer outra e sobretudo da que lhe seja antagônica. Idem, quando exara uma sentença. Donde ela se propõe, axiomaticamente, como sendo a decisão única admissível e, de conseguinte, como a decisão "certa'', a "verdadeira" - jamais como a que fosse simplesmente a mais conveniente. Logo, não há, em prol do juiz, como não haveria para o Tribunal, perante um pedido de liminar, qualquer "liberdade" peculiar, específica, qualificada - ou qualquer nome que se lhe pudesse dar - que diversifique sua posição em relação àquela que tem de assumir (e assume) ao prolatar a decisão final da lide. O título jurídico de que está investido para decidir - e é o mais elevado possível - é sempre o de dizer o direito estabelecido.
A lei, no caso concreto, fala através do órgão jurisdicional. Sua decisão, no instante em que é proferida, propõe-se a ser - repita-se - a única decisão "certa". Se for reformada, a pronúncia do órgão de alçada superior é que se qualificará como "certa" e "errada" a anterior, ainda que do ponto de vista lógico inexista qualquer garantia de que a segunda decisão é que esteja com a "verdade substancial". O de que se está a falar é da "verdade jurídica", não da verdade absoluta, que esta é inaferível. Juridicamente, a "verdade do direito em concreto", a "verdade legal aplicada", será a que conste da decisão que transitar em julgado. O mesmo fenômeno se passa quando um Tribunal muda de orientação no caracterizar o campo significativo de dada norma e, consequentemente, das soluções cabíveis quando esteja em causa. A "verdade legal" expressada pelo Judiciário o é perante o caso. Por isso pode variar, como varia ao longo do tempo, em sua relação com uma verdade ideal, absoluta, constante, cuja descoberta jamais se saberá se foi feita ou em que decisão o foi. Em suma: quando o juiz se defronta com um pedido de liminar em mandado de segurança terá de verificar unicamente se estão ou não presentes os pressupostos para concedê-la. E estarão ou não. Tertium non datur. Não se diga que tal verificação comporta apreciação livre, pois o mesmo fenômeno se passa com quaisquer outras decisões jurisdicionais, sem que, a propósito destas outras, se considere que o magistrado decidiu "discricionariamente" ao sentenciar.
Também nada importa para o caso admitir que as normas comportam mais de uma interpretação, do que resultaria haver, nas liminares, sentenças e acórdãos, um componente de discricionariedade, equiparável ao que ocorre nos atos administrativos desta espécie, como sustenta Kelsen. Deveras, da circunstância de que o fenômeno seja logicamente o mesmo não se segue que receba idêntica qualificação jurídica. Assim como a aludida "verdade substancial", também não são juridicamente as mesmas as qualificações que o Direito atribui às avaliações que o órgão jurisdicional efetua e às que realiza o administrador, quando cada qual decide no exercício das respectivas atribuições. O que importa é que o Direito caracteriza as decisões jurisdicionais, sempre e sempre, como volvidas a dizer o Direito: o único assim qualificável no caso concreto, pois este é o atributo correspondente à identidade própria dos atos de jurisdição; identidade da qual está excluída a possibilidade de que sejam simplesmente "opiniões" alternativas, opções melhores ou piores, mas equivalentemente confortadas pela ordem jurídica. É exatamente nisto que se traduz a distinção de jure entre a discrição do administrador e a atuação do magistrado. As decisões jurisdicionais, quaisquer que sejam, confirmadas ou reformadas, persistentes ou superadas por orientação jurisprudencial nova, são sempre proferidas na qualidade de atos vinculados a dizer o Direito. Então, não há supor que o juiz tenha discrição para deferir ou indeferir pedido de liminar. Tal discrição por definição não existe ou, se existe, não expressa fenômeno em nada e por nada distinto daquele que acode ao prolatar-se uma sentença ou acórdão. Distingue-se da discrição administrativa por força da qualidade jurídica que reveste o ato jurisdicional: consistir em solução proposta como a única confortada na regra aplicanda ante o caso concreto, já que é a própria voz da lei para a situação vertente. Segue daí que a denegação de liminar ou sua concessão, se mal decididas, ensejam impetração de segurança perante a instância superior, como quaisquer violações de direito líquido e certo.
Diga-se, apenas de passagem, que seria disparatado supor que esta conclusão óbvia estaria embargada normativamente, ante o princípio incluso unius exclusoalterius, dado o fato de que a Lei 4.438, de 26. 6. 64, prevê em seu art. 4.º a cassação de segurança, a pedido de pessoa de direito público, ante o grave risco de lesão à ordem, saúde, segurança e economia públicas, não prevendo, entretanto, para os particulares, a mesma providência quando a decisão lhes haja sido desfavorável. Desde logo, caberia observar que a sobredita lei cogita de outra questão diversa da mencionada. Com efeito, o que nela se dispõe reporta-se à elevação do conhecimento da matéria no mesmo processo, nos mesmos autos e tem em vista situação peculiar: cassação de segurança pelo Presidente do Tribunal a que seria remetido o recurso e ante situação excepcional. Já a impetração de segurança contra denegação ou concessão de liminar é simplesmente o uso de um remédio constitucional próprio, que nada tem a ver com elevação, no mandado original, da matéria discutida para apreciação do Presidente do órgão de alçada. Em face do quanto foi dito, cumpre observar, derradeiramente, que corresponderia a erro de proporções teratológicas - por desconhecer a própria essência da atividade jurisdicional - supor que concessão ou denegação de liminar em mandado de segurança é insuscetível de ser questionada por mandado de segurança, ante instância superior, sob alegação de que esta não poderá conhecê-lo ou dar-lhe provimento sem incorrer na invasão de uma hipotética discricionariedade do juiz (outubro/89).
Artigo originalmente publicado na Revista de Direito Público, São Paulo, ano 22, n. 92, p. 55-61, out.-dez. 1989.
Downloads
Arquivos adicionais
Publicado
Como Citar
Edição
Seção
Licença
(CC BY-NC-ND)
Este é um resumo (e não um substituto) da licença
Regras para publicação
Direitrizes Editoriais
Direitos e Deveres
Errata e Retratação
Preservação e Plagiarismo
Revisão e Avaliação