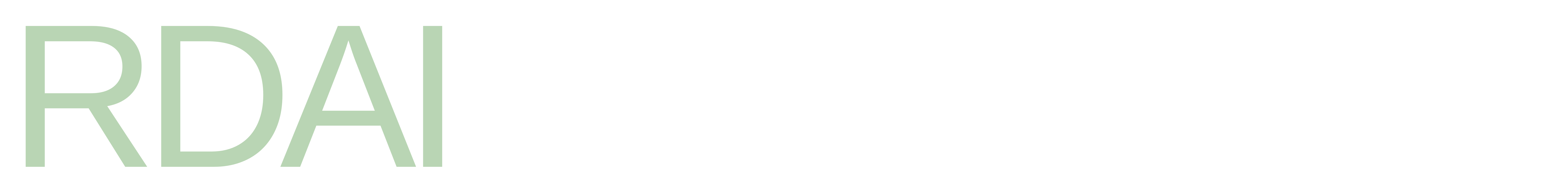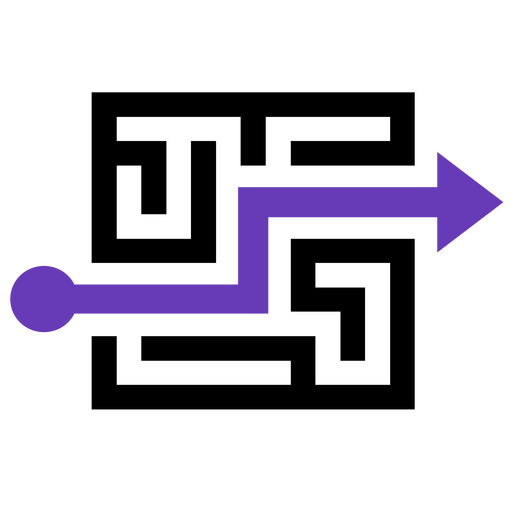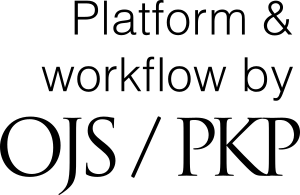Responsabilidade civil por dano ecológico
Civil liability for ecologic damage
DOI:
https://doi.org/10.48143/rdai/04.sf2Resumo
Em fins de 1971, começos de 1972, escrevemos trabalho, na ocasião pioneiro no Brasil, sobre Direito Ecológico. Seis meses depois, víamos boa parte de suas conclusões transformada em lei, quando o Governo Federal publicava decreto criador da Secretaria Especial do Meio Ambiente. Em seus considerandos havia a enunciação de uma série de teses que tínhamos proposto no trabalho pioneiro, publicado na “Revista da Consultoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul”. E mais, uma coincidência até espantosa: adiante era ditada, em Estocolmo, a “Declaração Internacional do Meio Ambiente”, onde 3 das 20 proposições estavam integralmente nas preocupações constantes de nosso trabalho. De toda maneira, o fato demonstrava que as preocupações nossas eram aquelas que existem discutidas por todos, enquanto cidadãos do globo, que veem alarmadamente os grandes riscos, a irresponsabilidade, a falta de consciência na ausência de iniciativas que possam impedir a ação predatória do meio ambiente, cada vez mais presente, cada vez mais apavorante e cada vez contando com a maior contando com a maior conivência do Poder Público. Se não conivência comissiva, pelo menos gravemente omissiva, nos seus deveres fundamentais de vigilância e de segurança.
Antigas reformulações e preocupações, lançadas há anos, continuam atualíssimas. Praticamente nada se fez. Toda uma vastíssima bibliografia jurídica está sendo produzida pelo mundo afora, leis do maior valor, com vistas à preocupação da preservação ecológica; enquanto isso, continuamos jungidos a interesses espúrios e soluções viciadas ou viciosas. Daremos um exemplo. Há pouco mais de dois anos, uma indústria altamente poluente, na cidade de Contagem, em Minas Gerais, fabricando cimento, chegou a tais níveis de atividade prejudicial à coletividade que, não obstante ela fosse a grande fonte de empregos, e talvez da maior arrecadação tributária para o município, seu Prefeito, a certo momento, se viu em face da contingência suprema: ou a sobrevivência dos cidadãos, ou a sobrevivência do Erário. E, entre as duas, optou pela sobrevivência dos cidadãos, determinando, de início, um prazo para que a indústria adotasse instrumentos de segurança. E, num segundo momento, quando desatendida esta prescrição, uma determinação de fechamento desta indústria. No momento em que uma atitude de tal coragem se toma, cumpria bater palmas pelo Brasil afora, pois comprovava-se a consciência ecológica despertada ao nível político. Eis a determinação administrativa fazendo eco às preocupações de todos nós cidadãos. Porém, a insensibilidade de muitos agentes administrativos não tardou a reagir, e em seguida era editado o Dec.-lei federal 1.413, afirmando que o fechamento de indústrias poluentes, no Brasil, só se faz por determinação do Governo Federal; atropelava-se, outra vez, o sistema constitucional de competências, subvertendo a essência do regime federativo, a consideração do peculiar interesse, determinante jurídico da atuação dos Munícipios e do Estados. Em seguida a este Dec.-lei 1.413, evidentemente, a fábrica de Contagem voltou a funcionar e continuamos a assistir à depredação de um ambiente que já não suporta mais tantas agressões impunes.
Chegará o dia em que, para andar em São Paulo, p. ex., teremos que usar as máscaras que já se veem em Tóquio; chegará o dia em que nas grandes cidades, que estão cercadas (e a expressão, aqui, tem até uma nota realmente militar) por anéis industriais (que mais não fazem senão criar uma nova atmosfera profundamente agressiva ao homem e à sobrevivência), o êxodo será a única solução possível. Chegará esse dia, fatalmente, se não acordarmos para a realidade: a preservação não é problema que interesse isoladamente a cada um de nós, mas coletivamente a todos.
O fundamental é que desde já nos conscientizássemos de que o patrimônio ambiental, bem ao contrário do que dizem os juristas e algumas leis, não é “res nullius”, mas “res ommium” – coisa de todos. Todos temos interesse jurídico na preservação do ambiente. Por isso, todos temos reconhecido, pela ordem jurídica, direito subjetivo à tutela ambiental. Assim, devemos promover a atuação tutelar do Poder Judiciário, ou dos agentes administrativos, sempre que percebemos a existência de uma agressão contra a sanidade do ambiente em que estamos vivendo. Se não dermos essa dimensão ao tema, colaboraremos na construção de um mundo que não será vivido por seres humanos, como os conhecemos. Assistimos, de braços cruzados, à devastação da Amazônia. Uma devastação que se faz a nível nacional, internacional, da grande empresa multinacional e do Poder Público mesmo. Veja-se este último, p. ex., construindo estradas faraônicas, que levam nada a parte alguma (como ocorre com a Transamazônica), com grave atentado à integridade do ambiente, até então existente. Ora são projetos mirabólicos, devastando a Amazônia, a troco da implantação de plano industrial, que se revertem em grandes riquezas, não saberemos a quem aproveitarão. Ora são as grandes multinacionais, como a Volkswagen, que fazem desmatamentos extraordinários naquela área; a pretexto de quê? Às vezes, de replantio! Derrubar floresta virgem para replantar exemplares vegetais que não têm pertinência com a integração sistemática, com o ecossistema!
Ecologia está diretamente ligada à sobrevivência. Esta fórmula é indissociável. Claro está que não bastaria se colocasse tão apenas a preocupação da preservação do ambiente tal como está, desligada de várias outras considerações que são imprescindíveis à cogitação do homem do direito. É indiscutível que vivemos em sociedades em crescimento, ao menos populacional. É indiscutível que os países do Terceiro Mundo apresentam uma alta taxa de crescimento demográfico. Se não adotarmos soluções malthusianas, que, para os países subpovoados como o Brasil, não tem o mínimo de sentido, haverá que buscar compatibilização entre os reclamos do progresso e a manutenção de um ambiente hígido onde possamos viver.
Assim, uma das principais metas do homem do direito e do estadista residirá em formular preceitos que garantam uma tutela ambiental, que garantam amplamente a qualquer cidadão a possibilidade de, ao se sentir ameaçados, buscar a proteção do Direito, independentemente de considerações de legitimação lastradas em critérios de mero prejuízo patrimonial. Até porque o patrimônio maior não é o mero patrimônio econômico, mas o patrimônio de sobrevivência. O ordenamento jurídico tem que ser acordado para essa necessidade gritante, para a qual persistimos, entretanto, tragicamente adormecidos.
A expressão “dano ecológico” é tão sugestiva que poderia até dispensar preocupações maiores de definição. Poderemos, entretanto, para simples convenção, estipular como dano ecológico toda lesão defluente de qualquer agressão à integridade ambiental. O tema reflui, pois, necessariamente, para a sistemática da responsabilidade pela provocação desse dano. Como está o ordenamento jurídico brasileiro, neste particular? Como ele encara o dano ecológico? Como trata da responsabilização por esse dano? Coo ele induz a reparação subsequente a esse dano?
Digamos, sem qualquer hesitação, que é absolutamente insuficiente o esquema legal. O enfoque existente, no Direito Positivo brasileiro, é particularmente consignado no Código Civil. Na verdade, o Código Civil trata do problema à luz da solução para os conflitos de vizinhança julgando imperioso que o vizinho reclame daquele que o perturba na convivência. E é interessante notar que, em 1972, reuniu-se no Rio de Janeiro um Simpósio da União Internacional dos Magistrados onde se concluía, de maneira seguramente decepcionante, que era extremamente satisfatório o sistema de segurança ambiental proposto pelo nosso Código Civil, lançado todo ele na consideração da problemática dos conflitos de vizinhança.
Não se pode, a rigor, adentrar a discussão da responsabilidade pelo dano ecológico sem se lançar, de pronto, certas ideias, que denominaria fundamentais. De toda sorte, três preocupações básicas, pelo menos, o Direito Positivo brasileiro terá de consignar, se quiser dar um tratamento sério e consistente aos problemas da agressão ecológica. Sabido é que os atentados à integridade do ambiente, em países em desenvolvimento, se processa, sobretudo, através da instalação de indústrias poluentes, que importam, necessariamente, um grande investimento de capital e de “know-how”; a seu turno, geram elas riquezas tributárias e empregos para a coletividade; a busca da compatibilização entre um dado e outro se apresenta como absolutamente inafastável. Daí que a primeira formulação relevante que se já de fazer repousa em reformular o instrumento que jurídico que admite o funcionamento de indústrias em qualquer lugar. Hoje, quem queira construir uma indústria deverá obter uma licença de construção. E essa licença de construção, superados os trâmites precedentes à sua concessão, importa a atribuição de um direito subjetivo, que só pode ser removido nas hipóteses excepcionalíssimas previstas no ordenamento jurídico, entre as quais a desapropriação: na realidade um conceito profundamente enraizado numa concepção, sagrada, sacralista, de propriedade, que não pode mais existir, até porque o próprio texto constitucional afirma que a propriedade existe justificada como função social, desde o momento em que ela perca este conteúdo social, não seria admissível, quer no plano da simples lógica, quer no plano do raciocínio jurídico, que a mera acessão a um imóvel, seja a que preço for, de instalações, sejam quanto onerosas forem, determine o sacrifício de todos os demais valores que possam compor a ideia de função social da propriedade. Daí temos proposto que o instrumento jurídico a admitir a execução de empreendimentos que possam eventualmente verificar-se como agressivos à higidez ambiental, nunca deveria ser o da licença, mas o da simples permissão a título precário, unilateralmente revogável, sempre que considerações de natureza maior (qual seja, a da própria sobrevivência do homem) recomendarem a erradicação daquela construção do local em que situada primitivamente.
A segunda formulação, para o reenfoque ecológico do Direito, seria a positivação de um direito público subjetivo à tutela ambiental: todo e qualquer cidadão estaria legitimado, de plano, a promover a atuação dos poderes competentes no sentido de assegurar a integridade do ambiente. Cremos que não é necessária a lesão patrimonial, nem e preciso que haja prejuízo direto e imediato. Assim, eu poderia, dentro desse esquema idealmente imaginado, propor uma ação contra o Poder Público que resolvesse construir uma estrada discutível na Amazônia, sem estar ali residindo e sem pensar sequer em para lá mudar meu destino ou domicílio. E não só eu: enquanto a Amazônia é uma reserva atmosférica, para todo o nosso planeta, na realidade, qualquer cidadão do mundo deveria estar legitimado a procurar uma atuação do Poder Judiciário do Brasil contra um ato administrativo brasileiro que tivesse permitido uma agressão à integridade da Floresta Amazônica.
Estaríamos, pois, desligando da formulação de propriedade qualquer contingente egoístico. Não é mais o vizinho lesado, conforme o Código Civil prevê: é o cidadão consciente, que quer e faz com que funcionem os órgãos competentes para a preservação ambiental.
A terceira ideia resulta em que o instituto da desapropriação sofresse uma reformulação, deduzida a preocupação ecológica que haveria de se manifestar. Se o art. 161 permite, para a racionalização da economia, que o latifúndio rural improdutivo seja desapropriado de uma forma menos onerosa para o Poder Público (títulos da dívida pública, com correção monetária), com muito mais razão deveria ser admitido esse mesmo processo de desapropriação, ou outro análogo, quando se tratasse do bem maior, que é a racionalização da nossa vida, da sobrevivência.
Haveria, portanto, toda uma organicidade jurídica para a preocupação conservacionista. E, uma vez estipulada esta organicidade jurídica, o tema da responsabilidade civil, decorrente do dano ecológico, deveria sofrer cuidado expresso, regência expressa, com preocupação e princípios próprios e peculiares.
Mas não estamos em face desse sistema positivo ideal de Direito. O que temos é o sistema do Código Civil, com preocupações privatistas; o que temos é uma ideia de função social da propriedade que ainda é muito mais rotular do que efetiva.
O ponto de partida para uma reforma desse estado de coisas reside em nós mesmos. Cabe a cada um de nós manifestar inconformismo com a inação (e, às vezes, com a ação) governamental. Não só, ou necessariamente, no patamar judicial. Também é eficaz difundir nossa irresignação junto aos corpos associativos das coletividades, perante as repartições administrativas e junto aos órgãos da imprensa. Foi assim, p. ex., que se iniciou a construção, em França, de uma pletórica ordem jurídico-ecológica.
Sobretudo através de motivos deduzidos pelo cidadão alerta no dia-a-dia e de uma consciência poderosa de uma imprensa sempre livre foi possível, ali conscientizar todos para essa verdadeira cruzada de sobrevivência. Assim surgiram os pleitos que são, hoje, tópicos dos reportórios de jurisprudência, a servirem de inspiração para todos nós. Ora são os donos de hotéis de Nice que ajuízam ação contra a Municipalidade, por causa da permissão da construção do Aeroporto Supersônico Charles de Gaulle. Ora são os criadores vizinhos que entram com ação contra Municipalidade porque um caminhão que transportava ácido, certo momento, a uma irregularidade do terreno, tombou à margem da estrada e com isso derrubou o conteúdo num regato que fazia a irrigação agrícola da região. Ora é, ainda, o cidadão francês, o pescador francês, que vê aquele riacho, onde havia um grande banco de peixe, subitamente prejudicado com despejos industriais que são feitos diretamente, sem qualquer tratamento, prejudicando toda uma fauna e toda uma flora que eram a própria razão de subsistência local.
Não se fará, seguramente, qualquer passo à frente, no tema da responsabilidade pelo dano ecológico, se não compreendermos que o esquema tradicional da responsabilidade subjetiva, da responsabilidade por culpa, tem que ser abandonado.
Esta realmente a pedra de toque. Dois possíveis agressores ao ambiente ecológico se podem propor. Ou o Poder Público ou o particular. O Poder Público, de acordo com o art. 107 da CF, é responsável, objetivamente, pelo dano que seus agentes, nesta qualidade, praticam. Não se indaga do nexo subjetivo de intenção. Não é relevante que o agente administrativo tenha querido prejudicar; basta que ele tenha prejudicado: responsabilidade objetiva. É muito interessante esta expressão: responsabilidade civil do Estado. Poderia parecer, semanticamente, uma contradição. Mas não: ela pretende que o Estado é responsável pelos seus atos, como qualquer cidadão. Ela resulta historicamente de uma evolução da absoluta irresponsabilidade do Estado até a responsabilidade objetiva dos nossos tempos. É uma evolução lenta, em muitos países recente, alguns deles dos mais avançados do mundo. Entre nós acertado, desde o texto constitucional de 1946, o princípio da responsabilidade objetiva do Estado. Se assim é quando é o Estado quem promove dano, assim não é, pelo menos em termos de Direito legislado, quando é um particular que provoca o dano. A responsabilidade do particular está jungida ao Código Civil. E, no Código Civil, a ideia matricial é a da responsabilidade subjetiva.
Pois bem, se o Estado responde objetivamente, não há como admitir a sobrevivência desse preceito do Código Civil brasileiro, com relação ao particular, na medida em que esteja envolto o interesse público marcante. Seria tratar desigualmente pessoas que, pelo menos de acordo com o art. 153, devem, no plano das ideias, ser tidas como iguais.
As pessoas ideais e as pessoas físicas, no momento que ambas impliquem, com suas atividades, prejuízos à coletividade, devem ser igualmente responsabilizadas, sob pena de quebra do padrão de isonomia, que é uma das regras fundamentais do nosso ordenamento constitucional.
Quero significar, com isso, que qualquer cidadão deve ser responsabilizado objetivamente pelos prejuízos que acarreta ao patrimônio ecológico, tal como o Estado é. Tal como o Estado é chamado objetivamente ao Tribunal, por invocação do art. 107, igualmente o cidadão deve ser objetivamente chamado.
Quais são as consequências, qual é a implicação que a adoção de uma teoria de responsabilidade objetiva traria? Em primeiro lugar, prescindir-se-ia da prova de intenção lesiva no ato. Não é necessário que se prove a intenção de lesar, a intenção de prejudicar. Basta o simples ato prejudicial para que haja responsabilidade do agente.
Em segundo lugar, decorrência também da responsabilidade objetiva é a inversão do ônus da prova. Parte-se da presunção de que o agente causou o prejuízo. Não se precisa provar esse dado. É o agente quem vai procurar um excludente de responsabilidade. Alega-se o prejuízo, e pela simples alegação já se tem o fato como presumidamente comprovado, cabendo ao agente lidar com todas as dificuldades da geração probatória. É exatamente o que Savatier já preconizara: a socialização do risco e do prejuízo. A socialização do dano torna necessário, como outra face da moeda, que haja uma socialização da responsabilidade também. Se o dano é disseminado, como acontece exatamente no prejuízo ecológico, por toda uma coletividade, claro está que a imputação desta responsabilidade não pode mais ficar adstrita tão apenas aos requisitos subjetivos e individualistas, até então existentes. É preciso também que se parta, correlatamente, para uma imputação objetiva, que possa levar ao caminho mais concreto, para se apontar o responsável, e nele descarregar o ônus, o encargo, o peso da sua atividade lesiva à coletividade.
Não tenho dúvida em dizer que o próprio esquema da responsabilidade objetiva tem que ser, por seu turno, encarado com uma certa ousadia. É verdade que o art. 107 fala em responsabilidade objetiva. É verdade também, por outro lado, que há várias correntes doutrinárias de responsabilidade objetiva: do fato da coisa; do risco de serviço; do risco criado; do risco integral... A doutrina e a jurisprudência têm afirmado uma cerca repulsa ao princípio do risco integral, considerando que não é possível que o simples fato da Administração impute responsabilidade ao Poder Público.
Creio que, em termos de dano ecológico, não se pode pensar em outra colocação que não seja a do risco integral. Não se pode pensar em outra malha senão a malha realmente bem apertada que possa, na primeira jogada da rede, colher todo e qualquer possível responsável pelo prejuízo ambiental. É importante que, pelo simples fato de ter havido omissão, já seja possível enredar agente administrativo e particulares, todos aqueles que de alguma maneira possam ser imputados ao prejuízo provocado para a coletividade. Isso implica dizer que a culpa ou o proveito do terceiro que invoca a proteção jurisdicional, duas figurar que classicamente acabam por excluir a responsabilidade objetiva, não devem ser contempladas em termos de dano ecológico. E mesmo a força maior deveria ser excepcionalmente contemplada. Daremos dois exemplos. O primeiro dirá respeito à força maior. Suponhamos, ainda uma vez, a Região Amazônica, uma das grandes e últimas reservas florestais neste País. O Poder Público permite ou, até mesmo, toma a iniciativa da construção de uma estrada, ali. Subitamente, a Corrente de Humboldt muda o seu rumo, em razão de algum cataclismo possível de ocorrer do Oceano Pacífico, provocando, com isso, um desequilíbrio em toda a infiltração das massas frias, que chegam através dos Andes. E essas condições climáticas encontram, de repente, campo propício para um fator altamente desagregador do meio ambiente, em razão da destruição que a estrada provocou. Como admitir alegar força maior? A estrada, em si, ao menos no nosso exemplo, poderia não ser fator de agressão. Mas um fato de impossível previsão encontrou na estrada campo propício para grave dano ecológico. Ora, ao admitir ou executar sua construção, assumiu a Administração um risco integral pelos eventuais prejuízos que adviessem.
Essa participação, porém, mínima que seja, já deve ensejar a possibilidade da responsabilização do agente, público ou particular.
Também o proveito do terceiro ou a própria co-participação de terceiro que reclama não deve ser considerada como fator de exclusão da responsabilidade do agente predatório, seja ele de direito público, seja ele de direito privado. Segue outro exemplo. Um cultivador de vinhas que irrigava o seu terreno com água que vinha de um regato próximo, cuja limpidez era absolutamente garantida, a certo instante realizou obras na sua casa e fez com que passassem por esse regato, pelo menos em certo momento, alguns dos despejos domésticos. Em determinado instante, esse proprietário vem a juízo, pela razão de que um caminhão com ácido, passando por uma estrada, cai num buraco e toma sobre o terreno do cultivador, derramando o seu líquido altamente poluente e agressivo naquela corrente de água. Dirá o Estado: o curso de água já estava contaminado. O despejo doméstico, realizado pelo proprietário, já significa uma agressão àquele bem, àquela preservação ambiental pela qual ele tinha de zelar.
O Conselho de Estado francês, em hipótese semelhante, afirmou que essa causa de exclusão era absolutamente inidônea e irrelevante. Porque, em tema de dano ecológico, e isto ficou desde então lançado como jurisprudência, o acréscimo dos fatores funciona com progressão geométrica. E o resultado final que ele atinge é, em geral, imprevisível. E mais do que isso. Ele só se desdobra no curso do tempo. O acórdão, inclusive, fazia remissão à ideia do prejuízo decorrente do ruído. Dizia: dependendo da sensibilidade maior ou menor das pessoas, um aspirador de pó pode ser tão perturbador quanto a decolagem de um “Concorde”. Mas, na realidade, um aspirador de pó jamais tem um fator repetitivo de agressão acústica que um campo de pouso pode realmente provocar. Um campo de pouso, quando começa a funcionar, não gera, no seu primeiro dia, neuroses. Ao cabo de 15 dias, a população limítrofe já está quase toda neurotizada. Da mesma maneira: derramamento de ácido no rio promove um dado ecológico que, seja ou não seja somado a outros fatores, é de imprevisível consequência final, mas de progressão geométrica na previsão desses prejuízos. É realmente impossível saber desde se aquele ácido vai penetrar na terra, se vai estragar os vegetais que lá estão plantados, se vai continuar dentro do curso d’água, não se misturando a ela, e por isso se projetando para extensões muito amplas do território, se vai chegar ao mar (com isso prejudicando a fauna e a flora marinha); então, cada ato de agressão merece um tratamento quase que peculiar, sem que se procure justifica-lo pelo fato de antes já ter existido uma outra causa que havia depreciado o ambiente. Em termos de preservação ambiental, todas as responsabilidades se somam; nenhuma pode excluir a outra. E esta colocação abre realmente perspectivas extraordinárias, no sentido da solidarização do risco social, em termos de dano ecológico. Exatamente aquilo que dizia Savatier: solidariedade nos prejuízos, sim, mas também solidariedade nas responsabilidades. De sorte que quem quer que tenha concordado, por ação ou omissão, saiba que cedo ou tarde poderá ser colhido nas malhas da lei.
As consequências da implantação da responsabilidade objetiva podem ser sumarizadas em cinco itens, alguns dos quais já foram tratados aqui, mas que agora serão equacionados em itemização.
A primeira é a irrelevância da intenção danosa. É absolutamente irrelevante, para o sistema da responsabilidade objetiva, qual tenha sido a pretensão ou a intenção do agente. Basta um simples prejuízo.
A segunda é a irrelevância também da mensuração do subjetivismo. Ou seja, não é relevante que a intenção danosa possa ser repartida por muitas pessoas. O importante é que se vá buscar algumas dessas pessoas. O importante é que todas aquelas que possam ser identificadas sejam colhidas, pouco molestando que algumas tenham escala maior de participação no dano do que outras. O importante é que, no nexo de causalidade, alguém tenha participado e, tendo participado, de alguma sorte, deve ser apanhado nas tramas da responsabilidade objetiva.
A terceira é a inversão do ônus da prova, assunto já antes abordado.
A quarta é a irrelevância da licitude da atividade. Essa foi uma linha de defesa muito seguida, sobretudo nos Estados Unidos. Quando apareciam pretensões contra alguém que se tinha instalado provocando agressão do meio ambiente, a licitude, não só da atividade, mas do seu exercício, era frequentemente colocado como tônica excludente de responsabilidade. Então, ou era uma indústria que se revelava como poluente e que se dizia legitimamente autorizada a funcionar; ou, então, que dizia ter adotado todos os mecanismos de segurança e de preservação e que, não obstante, continuava a poluir. Pouco interessou para as Cortes americanas, a partir de certo momento, esta evocação de licitude de comportamento. O que interessa é o prejuízo. Lembremos a célebre lide, contra a Air France, no caso do Aeroporto de Nice. Na construção do Aeroporto de Nice, os moradores das imediações acionar a Air France e a Municipalidade de Nice (porque teria permitido a construção do Aeroporto naquela região). A defesa da Air France foi lançada no sentido de que havia adotado, no comando das suas aeronaves, todas as precauções possíveis para causar o mínimo de prejuízos acústicos. E, mais ainda, que a atividade atuação de uma empresa aérea é perfeitamente legítima, desde que conforme aos mandamentos que regem o transporte aéreo de cada país. Não obstante todas estas alegações, o Conselho de Estado não teve dúvida em considerar procedentes os reclamos e determinar a reparação àqueles que haviam formulado a reclamação. É verdade que, no caso, houve um complicador: uma alegação, feita pela empresa, de que havia adotado todos os mecanismos de prevenção de ruído tecnicamente possíveis naquele momento da construção aeronáutica. A prova pericial acabou por demonstrar que isso não era verdade, e que as aeronaves de então, como as de hoje, poderiam, se desejassem, adotar métodos e equipamentos de eliminação de ruído, mas que implicariam, por seu turno, agravamento do preço do veículo. E ela havia optado pelo não agravamento do preço. Mas, mesmo colocada de lado esta circunstância (que foi levada em conta na sentença), também já se chegaria à responsabilidade da Air France, pelo simples fato de que o Conselho de Estado repeliu a tese da licitude da atividade e do seu exercício como sendo excludente de responsabilidade. O que interessa, dizia, é que a atividade danosa ecologicamente quebra o princípio do equilíbrio dos cidadãos, perante os encargos públicos e sociais. E aí tivemos uma aplicação engenhosa do princípio da isonomia, do princípio da distribuição de cargas públicas, a esse contencioso ecológico. Desde então, o Conselho de Estado fixou a regra de que, sempre que alguém é designadamente sobrecarregado om um ônus ambiental, tem direito a uma reparação e se responsabiliza quem quer que tenha concorrido para o particular desequilíbrio.
O último dado relevante dessas consequências da adoção do sistema de responsabilidade objetiva repousa na ideia de que a atenuação do relevo do nexo causal tem que ser assumida. Não deve haver uma grande preocupação em relacionar a atividade do agente com o prejuízo. Basta que, potencialmente, a atividade do agente possa acarretar prejuízo ecológico para que se inverta imediatamente o ônus da prova, para que imediatamente se produza a presunção da responsabilidade, reservando, portanto, para o eventual acionado o ônus de procurar excluir sua imputação.
Todas essas preocupações acabaram por encontrar, no ano de 1972, uma formulação documentada da mais alta relevância. Trata-se da Declaração do Meio Ambiente, ditada pela ONU e pela UNESCO, em Estocolmo. Essa declaração, dividida em vários itens da mais alta relevância, consigna uma que parece absolutamente fundamental. É a de que, além dos direitos que tem o homem a uma vida digna, a uma vida livre, tem direito também ao meio ambiente sadio. É o art. 1º da Declaração de Estocolmo: “Todo ser humano tem direito a um ambiente sadio em que possa viver”. Pela primeira vez encontramos um documento da relevância deste, da majestade deste, a afirmar como um dos direitos humanos, não previsto até na Declaração de Direito da própria ONU, na Carta de 1945, o direito a um ambiente sadio.
A Declaração de Estocolmo, portanto, acordou uma consciência universal para a ideia da proteção ambiental; e da necessária tutela subjetiva que daí deve, necessariamente, decorrer. Claro está que a força desse documento reside muito mais no mundo das ideias do que no mundo da factibilidade. Imprescindível é, para que essa proteção não se transforme em mais uma recomendação das muitas que conhecemos e que não se aplicam (p. ex., integridade física do cidadão, liberdade de manifestação de ideias, liberdade do pensamento propagado, enfim, a liberdade de reunião, de associação), que o Direito Positivo de cada país também a consagre.
Na verdade, no Brasil não encontramos ainda um Direito Positivo centrado em preocupações ecológicas. Vemos que todos os Estados têm, em geral, e muitos Municípios também, normas de proteção ao ambiente. São normas fragmentadas. Ora é a proteção contra ruídos, ora é a proteção de mananciais, sem que haja uma linha de unicidade que se possa constatar no sistema. A União Federal age identicamente. E mais: chama a si, exclusivamente, conforme vimos, numa absurda evocação à letra “c” do art. 8º, XII, da CF, a prerrogativa para fechar estabelecimentos poluentes em todo o País. Há, portanto, uma colcha de retalhos, uma falta de unidade, que está exatamente a traduzir a ausência de uma consciência pública e privada da necessidade de preservação ambiental. E este é o último problema para o qual pretendemos conclamar a atenção. Realmente fundamental, essencial, é a formação de uma conscientização da necessidade da preservação ambiental. Como se promove essa consciência? Numa época em que a comunicação de massas é tão fácil, é tão utilizada para sentidos de deformação, para expressões patológicas, em que ela é tão usada abusivamente, não seria difícil a administradores de boa-fé, bem intencionados e bem fundamentados tecnicamente, induzir uma consciência pública quanto à necessidade de preservação. Trata-se, simplesmente, de uma técnica de comunicação.
O problema é que não basta conscientizar o povo; é preciso que se conscientize, sobretudo, o próprio Poder Público. É preciso que ele não exerça o papel de degradações do ambiente que, infelizmente, ele exerce. E com muito mais força que qualquer cidadão. Eu posso poluir um riacho. O Poder Público pode acabar com a Floresta Amazônica. A desproporção do poder de agressão que tem o Poder Público, em face do particular, realmente é imensa. Não basta promover a consciência privada se também não estiver instaurada a consciência pública. Não basta promover a consciência privada se não se dá uma série de organismos estatais, dedicados ao problema, órgãos administrativos e órgãos judiciários. E órgãos, uns e outros, dotados de independência, para que se possa realmente promover uma tutela ambiental.
Mas haveria possibilidade, entretanto, de mesmo sem essa conscientização despertada, mesmo sem o Poder Público consciente dedicar-se àquilo que é uma das suas tarefas primordiais, darmos grandes passos adiante. E é este nosso apelo final. Na realidade, cremos que o grande poder do Estado é o Poder Judiciário: primeiro porque é poder desarmado; segundo porque é o poder que lida com o material fundamental da convivência, que é a lei, aplicando-a aos casos litigiosos. O poder desarmado que lida com a aplicação da lei tem um papel, na constituição da sociedade, ímpar, pioneiro na construção de novos arcabouços jurídicos. Na verdade, no momento em que há uma tão grande defasagem no Direito Positivo, nos ditames administrativos de preocupação ambiental, cabe a nós, como cidadãos, em cada momento que detectarmos uma agressão dessa natureza, procurar a tutela judicial. E cabe ao Poder Judiciário, ousadamente (construindo, como fez tantas vezes no Direito de Família, abrindo realmente um campo extraordinário de proteção à mulher, antes mesmo que a lei lá chegasse; no campo da reparação pelo ato ilícito, criando a possibilidade, p. ex., de correção monetária sem que haja, inclusive, lei dizendo textualmente que assim é, mas procurando descobrir no espírito da lei um conteúdo novo que pudesse ser adequado à nova realidade social), dar resposta cabal aos reclamos. Esse é um desafio ao Poder Judiciário. Ele, talvez, terá de, mais uma vez, como tem ocorrido em vários momentos da vida nacional, acordar para esse valor supremo.
Downloads
Downloads
Publicado
Como Citar
Edição
Seção
Licença
(CC BY-NC-ND)
Este é um resumo (e não um substituto) da licença
Regras para publicação
Direitrizes Editoriais
Direitos e Deveres
Errata e Retratação
Preservação e Plagiarismo
Revisão e Avaliação